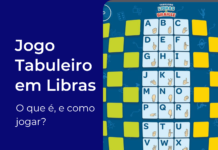O rúgbi em cadeira de rodas, cuja final encerrou neste domingo (18), às 12h30, as competições da Paraolimpíada do Rio no Parque Olímpico, é a modalidade em que há maior parcela de jogadores que recorrem ao “boosting”, ou “turbinar a performance”, em tradução livre.
A prática consiste em o atleta, em busca de mais força e explosão, provocar de propósito ferimentos graves em si —como quebrar um dedo do pé ou esmagar os testículos.
Como geralmente têm paralisia, os jogadores não sentem dor da cintura para baixo, mas o corpo reage, aumentando a pressão arterial e os batimentos cardíacos. Os atletas podem chegar a batimentos de pessoas sem deficiência, o que melhora o desempenho nas provas. Os perigos da prática são risco de acidente cardiovascular cerebral ou infarto.
Pesquisa feita em parceria entre o Comitê Paralímpico Internacional e a Agência Mundial Antidoping (AMA) com 99 atletas mostrou que 17% utilizaram a prática, que é proibida, entre 2007 e 2009. Segundo o estudo, dos esportistas que adotaram o artifício, 54% são do rúgbi.
“Nós desaconselhamos, explicamos a eles os perigos, e até o momento não tivemos casos no rúgbi do Brasil”, diz o técnico da seleção brasileira, Rafael Gouveia.
TROMBADAS E CHOQUES
Quem assiste às partidas do rúgbi paraolímpico pode se assustar com o impacto entre os jogadores em quadra.
Com quatro jogadores de cada lado, o objetivo do jogo é ultrapassar a linha que delimita a extremidade oposta da quadra. Cada vez que se cruza a linha do adversário, marca-se um ponto.
No meio do caminho, no entanto, o atleta tem que furar o bloqueio dos adversários, que posicionam a cadeira no caminho e tentam roubar a bola com trombadas e choques.
As cadeiras são adaptadas para que os atletas não se machuquem na hora do contato. “É um esporte de muito contato, sim, as cadeiras se chocam o tempo todo, mas ninguém fica mais ‘tetraplégico’ do que já é por conta do esporte”, explica Gouveia.
O rúgbi foi criado, inicialmente, como alternativa ao basquete. Muitos atletas deficientes, embora tenham habilidade em conduzir a cadeira de rodas, têm dificuldade para arremessar a bola para o alto. Os passes no rúgbi são curtos, e o objetivo, conquistar território, está sempre logo à frente.
Esta é a quarta edição do rúgbi como esporte paraolímpico. O Canadá, país que criou o esporte em 1977, ainda não conseguiu uma medalha de ouro. O Brasil, em sua primeira participação, não conseguiu medalha na Rio-16.
PONTUAÇÃO E DESEMPENHO
Inicialmente, o rúgbi só aceitava pessoas tetraplégicas, mas hoje, seguindo uma regra de classificação funcional, há atletas competindo com má formação nas pernas, paralisia cerebral, vítimas de poliomielite ou amputados.
Cada equipe tem que ter atletas que no total somem oito pontos. Jogadores, por exemplo, com problemas nos braços e ombros fazem parte das classes 0,5 e 1. Os com total liberdade de movimentos dos troncos e braços são classificados na classe de 3,5. Nenhuma equipe pode ter mais de oito pontos em quadra, o que resulta em times equilibrados.
Atletas tetraplégicos, por exemplo, têm uma certa desvantagem em relação aos que não tiveram lesão permanente na espinha.
Pessoas que sofreram lesões permanentes não transpiram igual às demais. Por conta da lesão na espinha, os “avisos do cérebro” de que o corpo está superaquecido não chegam ao restante do corpo. Isso faz com que muitos só suem do ponto da lesão para cima ou até nem suem, o que compromete o desempenho.
“Um atleta que não sua fica menos tempo na quadra porque sente a fadiga muito mais rapidamente. Então, temos sempre que balancear a equipe”, afirma o técnico brasileiro.
RELUTÂNCIA FAMILIAR
Gouveia diz que há uma certa relutância das famílias de pessoas com deficiência em deixar seus parentes praticarem o rúgbi.
Muitas têm o receio de que o esporte leve os jogadores a se machucarem, devido aos duros e constantes choques.
“Isso é uma impressão. Acontece de alguém machucar um dedo ou algo do tipo, mas nunca vi uma lesão grave por conta de choque. As lesões que encontramos são as normais da prática de esporte, como musculares”, diz Gouveia.
Fonte: Folha